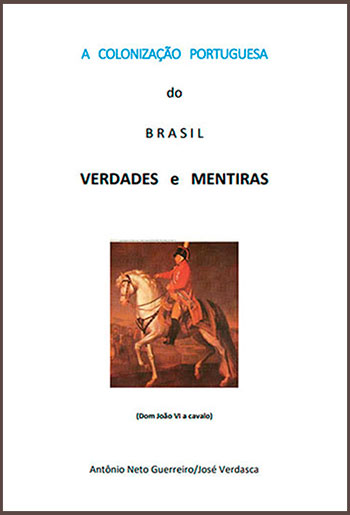
Prefácio: José Verdasca
Esta obra nasceu da indignação dos seus autores e historiadores - portugueses residentes no Brasil há mais de meio século – sentimento provocado pela revolta de muitos leitores, que consideraram inverdades e ofensas a Portugal e aos portugueses, muitas afirmações contidasdas nascontidas nas obras “1808” e “1822”, as quais seriam, ainda, um atentado à ciência histórica, um perfeito e acabado insulto aos amantes da verdade histórica, aos professores e alunos de história e aos historiadores sérios, que repudiam livros desrespeitosos para com personalidades há muito desaparecidas, e consideram covardia insultar quem não está vivo, pelo que não se pode defender de levianas acusações.
Deste modo a obra pretende, sobretudo e em especial, desagravar todos quantos – nessas obras humilhados, ofendidos, injustiçados e diminuídos – desbravadores, colonos e colonizadores que, desde o “Achamento” até a independência do Brasil (1500/1822), tudo fizeram para desenvolver este vasto território, e tentar civilizar e evangelizar as cerca de 250 tribosindígenas – algumas antropófagas - de dialetos e culturas em diferentes estágios e distintas, vivendo na Idade da Pedra, e aqui criar um Estado moderno, habitado por uma Nação civilizada e próspera, de língua portuguesa e cultura Ocidental.
A indignação de que falamos, baseou-se em sólidas razões: a subjetividade das opiniões e conclusões do autor de “1808” e “1822”, extemporâneas e beirando a irresponsabilidade e a leviandade; classificando como “corrupta” toda uma corte, e chamando ‘medroso’ ao Príncipe Dom João, regente dos reinos de Portugal e do Brasil; insinuando a sua ‘covardia’, com o ‘medo’ e incapacidade ou falta de coragem para “enfrentar” Napoleão em combate, no que entra em flagrante contradição, após afirmar ter sido o príncipe o único governante europeu a desobedecer e enfrentar Napoleão, quando o imperador francês decretou o bloqueio continental: “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma única exceção: o pequeno e desprotegido Portugal”.
Mas as inverdades não pararam por aí: classificando todo o Brasil como uma “colônia analfabeta”, em oposição às 13 colônias inglesas da América do Norte, “onde até os escravos eram alfabetizados, e o analfabetismo seria ZERO”, ou onde “existiriam nove universidades”, devaneios e exageros adiante derrubados, que mais aproximam os livros citados de romances, que de verdadeiras obras de história, as quais não admitem tais agressões ao rigor histórico, o autor parece-se mais com um ficcionista, do que com Formatado: um escritor que alardeou “ter lido mais de cento e cinquenta livros durante dez anos”, antes de “produzir” aquilo que apelidou “1808”. Com dez por cento das obras “lidas” e do tempo desperdiçado, muitos muito mais e melhor fizeram. Fossem tais livros apresentados como romances, não teríamos dúvidas em aplaudir um ou outro aspecto positivo, como a sua aceitação pelo público e elevada vendagem, a concorrer para uma melhoria do hábito da leitura entre os brasileiros, ou para o despertar do interesse pelo passado histórico do Brasil, uma vez que – a despeito das subjetivas, preconceituosas e condenáveis acusações pessoais e coletivas aqui apontadas - tais livros oferecem muitos dados relevantes e corretos, os quais, só por si, e isoladamente, contribuiriam para enriquecer o conhecimento dos leitores, mormente numa altura em que o ensino da história sofre e se empobrece, não apenas com a sua omissão mas, ainda e principalmente, com o preconceito que – como no caso presente – leva à preferência de fontes menos confiáveis, tendenciosas, parciais e detratoras da obra dos colonizadores.
Face ao conteúdo dos citados livros “1808” e “1822” de “investigação jornalística” - como os classifica o próprio autor e ou coordenador – muito conversei com o historiador Neto Guerreiro, na busca da melhor maneira de, com a maior elegância possível, repudiar as odiosas inverdades ou as graves deturpações da realidade, como sejam as ofensas ao defunto Príncipe Dom João (medroso ? covarde ? fugitivo ?) e a toda a sua corte (corrupta, ociosa, perdulária?), de entre 12.000 e 15.000 cidadãos portugueses, que muito sofreram para chegar ao Brasil, e mais ainda para aqui permanecer durante treze anos. Magoados, insultados, ofendidos, propomos-nos denunciar a fraude, e resgatar - na medida do possível - a verdade histórica, em reparação e respeito à honra e memória dos ofendidos, há quase dois séculos falecidos, mas ainda e também, em atenção aos leitores brasileiros, descendentes dos colonizadores, que merecendo e tendo todo o direito de ser informados corretamente, acerca do passado histórico de sua Pátria, não devem nem podem ser ludibriados com inverdades que ofendem, envergonham e deprimem, minando e abatendo a sua autoestima, o que poderá até mesmo contribuir para a construção de uma falsa identidade. Afinal, o que teria autorizado ou incentivado o autor de “1808” e “1822” - mais de dois séculos depois dos fatos narrados - a APELIDAR o PRÍNCIPE Dom JOÃO de medroso e toda a sua CORTE de CORRUPTA, sem apontar um único nome, sem citar um único caso de corrupção ?. Afinal, segundo supomos, corrupção é crime ou infração grave!. ESTIVESSEM OS OFENDIDOS VIVOS, decerto o autor não teria coragem para tanto, receando não apenas os tribunais, mas também os próprios ofendidos.
Afirmando que o Príncipe poderia ter ficado em Portugal e enfrentado Napoleão “se tivesse coragem para tanto”, usou o condicional, sempre hipotético, subjetivo, situação em que a ninguém podemos acusar ou imputar responsabilidades. Segundo o conceituado filósofo espanhol Ortega e Gasset “eu, sou eu e minhas circunstâncias”, princípio que não foi devidamente tido em conta, até mesmo respeitado pelo autor, que não acautelou ou condicionou suas afirmações às circunstâncias pessoais, locais e temporais há dois séculos vividas, tudo relatando sem a elas subordinar suas conclusões, suas afirmações, suas estórias. Ao citar opiniões sobre o Rio de Janeiro da época, não esclarece que as condições de higiene, ali, eram semelhantes às de qualquer outra urbe, até mesmo de cidades da Europa, como Paris, onde os dejetos eram por muitos moradores jogados na rua, durante a noite. Citando os medos de Dom João, fala dos caranguejos, do mar e dos trovões, fofocas insignificantes e ridículas, mas “esquece” a grande obra do excelente estadista, nos campos da educação, dos transportes, da união das populações e do território, entre muitos outros, estes sim fatos importantes.
São antigos e estão disseminados e arraigados, entre parte da população brasileira – em especial das camadas urbanas e menos informadas - os preconceitos relativos aos colonizadores, pois à medida que aumenta o nível cultural, ou entre bem informados e eruditos, é generalizado o respeito, a gratidão e o apreço desses brasileiros por seus ascendentes colonizadores; nas classes mais baixas ouvem-se, por vezes, lugares comuns como “os portugueses vieram e vêm ao Brasil para enriquecer”, como se todo e qualquer expatriado não emigrasse, sempre, em busca de melhores dias; e hoje, com mais de dois milhões de seus filhos imigrados um pouco por todo o mundo, o próprio Brasil se beneficia com as avultadas remessas pecuniárias, que os emigrantes enviam à mãe Pátris.
Entretanto, ouve-se também dizer, e com alguma frequência, que “os portugueses levaram todo o ouro do Brasil”, como se tal absurdo tivesse sido possível: trata-se de uma afirmação (ou pergunta) sem qualquer fundamento, tola e impensada, quando ninguém ignora que a exploração do ouro nas Minas Gerais era feita por particulares, cabendo ao Estado apenas cobrar o imposto de 20%, sobre o ouro extraído nas lavras – o chamado “quinto do ouro” - que a sonegação reinante, então como agora, acabaria reduzindo para um terço dessa quantia, segundo relatou o autor jesuíta italiano Antonil, aqui residente no século XVIII.
É notório o fato de que, já a partir dos primeiros colonizadores, e até o Ciclo do Ouro, os portugueses “substituíram a exploração da riqueza local (apenas existia o pau brasil) pela criação de riqueza no local” - frase feliz e autêntica do celebrado autor Gilberto Freire – riqueza essa representada pela produção de cereais, com sementes trazidas de Portugal; pela criação de animais domésticos, principalmente bovinos, vindos do Minho, dos Açores, da Madeira e de Cabo Verde; além de equinos, ovinos, caprinos, suínos e animais de capoeira; pelo açúcar de cana, nascida das mudas também trazidas das citadas ilhas; e de frutas como a uva e muitos outros produtos, também vindos de Portugal e depois aqui cultivados e produzidos.
Qual teria sido, pois, a razão de o autor de “1808” e “1822” não ter referido esta opinião, de um dos maiores sociólogos e escritores brasileiros de todos os tempos, respeitado no Brasil e no exterior ?. Entretanto, quando “comerciantes de livros” ambiciosos e gananciosos, sonham com popularidade ou fama e lucro fáceis, habitualmente esquecem o sagrado dever de quem se debruça sobre a história, que é, antes e acima de tudo ser fiel à verdade; escolhem o caminho da deturpação ou adulteração dos fatos, quando não optam pela mentira pura e simples, por vezes até pela ofensa contra personagens históricas, por ser esse escandaloso tipo de escrita que mais chama a atenção, que mais desperta a curiosidade dos leitores, que mais fácil e rapidamente atinge as camadas mais simples ou as classes menos informadas, que mais facilmente atrai e conquista adeptos. Para disso termos a certeza, basta-nos ler as manchetes dos jornais populares; assistir programas de televisão dirigidos às classes mais humildes, e verificaremos que – uns e outros – se valem de manchetes anunciando escândalos, falando de tragédias, relatando assaltos e violências, roubos e corrupção, descrevendo desastres e mensalões, suicídios e mortes.
Ao historiador e ou ao historiógrafo, não cabe alterar ou restaurar o que no passado aconteceu, cumprindo-lhe tomar consciência de que lida com as variáveis tempo e espaço, e que as ações humanas aconteceram em determinado lugar e momento, e em circunstâncias decorrentes destes fatores, ao longo dos quais se processa a evolução da cultura 13 humana, evolução essa a exigir, com a passagem dos séculos, diferentes interpretações de fatos semelhantes. É o caso de algumas infrações, no século XVI condenadas com a pena de degredo, e que hoje consideramos ocorrências sem importância, tais como tirar freira de convento, cortar árvore de fruta, dormir com escrava, sacar da espada em procissão (fato que condenou Camões ao degredo para a Ásia) e muitas outras, que já nem constam dos códigos penais.
Quando “1808” cita relatos condenando a imundície do Rio de Janeiro, em 1808, ou as manchas da casaca do Príncipe ao desembarcar da nau que ali o trouxe, “ignora” que nessa época, os moradores de Paris jogavam os excrementos na rua, e que o monarca terminava uma viagem de três meses, na sua nau superlotada (vinham cerca de 1.500 pessoas no espaço para menos de 500), onde a higiene era precária, a água escassa e o sabão inexistente. Não conhecemos obras que relacionem, e ou estimem, as colossais perdas portuguesas com as armadas – a de Cabral saiu com treze barcos e 1.500 homens, enviou, de Porto Seguro, uma caravela ao monarca a dar a notícia do Achamento, mas, no ano seguinte, regressou com apenas seis navios a Portugal – deixando no fundo do oceano seis navios e cerca de seiscentos homens; terá o “autor” de “1808” e de “1822” pesquisado os elevadíssimos custos dessas armadas, ou até mesmo as gigantescas perdas em homens?; terá ele tido a preocupação de se debruçar sobre os incalculáveis prejuízos, sofridos por quase todos os capitães donatários?; será que “esqueceu” o enorme valor atual do tesouro trazido pelo Príncipe Dom João (200 milhões de cruzados em ouro e diamantes)?; terá ele avaliado convenientemente o valor dos engenhos de açúcar fabricados no reino, vindos com os colonizadores?.
Mas, reportando-nos às riquezas trazidas de Portugal em naus e caravelas, será que alguém recorda ou sabe algo, acerca dos milhões de grandes blocos de granito, talhados na metrópole, e trazidos no bojo das naus durante três séculos, para a construção de centenas de fortes (como o belo Príncipe da Beira, às margens do rio Paraguai), e outros edifícios, ou muitos outros e ricos materiais de construção, como os azulejos de São Luis do Maranhão e dezenas de cidades coloniais, riquezas que se encontram espalhadas por todo o Brasil. Por fim, alguém se dá ao trabalho de realçar que, na época colonial, de Portugal vinham bois e cavalos, ovinos e caprinos, engenhos e ferro, navios e cobre, velas e instrumentos, tecidos e alfaias, pois aqui nada se produzia, extraindo-se, inicialmente, apenas o pau brasil, diminuta renda para tão elevadas despesas?.
Na vila castelhana de Tordesilhas - local onde foi elaborado, discutido e aprovado pelos representantes dos monarcas castelhano e português, que logo depois o ratificaram, o famoso tratado luso-castelhano de 1494, que guarda o nome dessa vila - o sábio almirante luso, Duarte Pacheco Pereira, era o chefe da delegação portuguesa; ali, e através desse tratado, a Terra foi, na realidade, dividida em duas metades, ou zonas de influência de Portugal e Castela, as quais eram pelo Meridiano delimitadas. Duarte Pacheco Pereira – astrônomo, matemático e notável negociador – exigiu, que o Meridiano depois chamado de Tordesilhas, se localizasse a 370 léguas a Oeste do arquipélago de Cabo Verde (e não apenas a cem léguas, como pretendia a delegação castelhana), de modo a passar pela foz do rio Amazonas,.
Pois foi esse mesmo Duarte Pacheco Pereira, que acabou navegando sem alarde após quatro anos, em 1498, até a foz do rio Amazonas, que reconheceu, como esclarece o próprio, na sua obra “Esmeraldo de Sittu Orbis”, manuscrito datado de 1505/1506, e séculos depois descoberto e editado. Estabelecia o tratado que seriam portuguesas, ou de influência portuguesa, as terras descobertas a Leste desse meridiano, e castelhanas as descobertas a Ocidente, garantindo assim, a Castela, todas as descobertas (Antilhas) por Colombo em 1492. A área de cerca de três milhões de km2, delimitada pelo meridiano de Tordesilhas - que “cortava” o território brasileiro desde a foz do rio Amazonas, a Norte, até Laguna, a Sul – e o Oceano Atlântico, passaria a pertencer a Portugal, e foi em 1534, pelo monarca português, dividida em 12/14 capitanias hereditárias, quando o rei decidiu entregar a colonização do Brasil, aos chamados capitães donatários, homens nobres de grande experiência e vasta fortuna, por si 14 acertadamente escolhidos, para tão nobre como espinhosa e perigosa missão.
Essa foi, sem dúvida, uma decisão genial, quando a obra gigantesca foi totalmente custeada por esses colonizadores, incluindo o povoamento, a ocupação e desbravamento da terra, a plantação da cana e implantação dos engenhos de açúcar, a construção da “casa grande” e da senzala; como já se afirmou, foi obra dos mais ricos e ilustrados fidalgos portugueses, aos quais competiu adquirir ou construir os navios, equipá-los e provê-los de tudo o que necessário fosse, para que rumassem ao Novo Mundo, em condições de bem cumprir a missão que lhes cumpria.
É oportuno aqui esclarecer, que Portugal era, ao tempo dos Descobrimentos, a pioneira e maior potência marítima do Globo, com possessões nos cinco continentes. Entretanto, a decisão de doar grandes áreas do território brasileiro, a fidalgos portugueses ricos e de ilustre passado, surgiu da constatação, pelo monarca, da impossibilidade de continuar a colonização iniciada por Martin Afonso de Souza em São Vicente, quando, dois anos antes, este ali aportou com quatrocentos homens - 27 cavaleiros fidalgos, entre eles Brás Cubas, fundador do hospital e Santa Casa de Todos os Santos, em 1543 - mudas de cana de açúcar e outras, engenhos, sementes, animais domésticos, materiais de construção e outros bens.
Tal feito, jamais foi devidamente valorizado e ou reconhecido, por implicar um esforço inaudito de um pequeno e pobre país, que, por não ter meios suficientes para continuá-lo, se viu forçado a recorrer aos ricos-homens de maior fortuna do reino. E estes homens ilustres, atendendo aos apelos do monarca, acabaram vendendo todos os seus bens, tudo investiram nas suas capitanias e, alguns, ali tudo perderam, até a própria vida.
O Capitão donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, foi, no Brasil, o maior e melhor exemplo de colonizador e administrador; depois de reunir uma vasta frota, e nela embarcar toda a sua família (os Coelho e os Albuquerque, hoje grandes e influentes famílias locais), e os melhores colonos da sua região minhota, além de todos os bens e utensílios necessários, como animais domésticos, materiais de construção, carros de bois, alfaias agrícolas, louças, roupas e talheres, entre outros – para o que alienou toda a sua enorme fortuna – rumou para Pernambuco, fundou a bela e rica cidade colonial de Olinda e ergueu uma capitania tão rica e próspera, que, passados poucos anos, abastecia de açúcar toda a Europa.
Entretanto, o grande sucesso desta capitania foi caso único, e apenas mais duas ou três capitanias alcançaram relativo êxito. E a causa do insucesso de outras, deveu-se, principalmente à ferocidade dos índios caetês e tupinambás, não lhe sendo alheios os desentendimentos entre colonos, o despreparo de prepostos de donatários e, ainda, a ganância, a ambição desmedida, até mesmo a luxúria de alguns. Em Pernambuco, tal foi o sucesso de Duarte Coelho, que acabou por aguçar a ganância e despertar a inveja dos holandeses, e a tal ponto exacerbou a sua gula, que estes organizaram uma poderosa armada, com o fim de conquistar a capitania, e assim usurpar a terra a quem a tinha desbravado, e as suas riquezas a quem as tinha criado.
Em boa verdade, os holandeses não vieram ao Brasil para trabalhar, imitando os portugueses, desbravando a mata, plantando a cana, construindo os engenhos, erguendo cidades, fundando portos. Na realidade, vieram para assaltar plantações e engenhos e roubar industrias e cidades, que os portugueses, com muito trabalho e grande sacrifício, ali investindo suas próprias fortunas, tinham criado e erguido, e que havia muito estavam produzindo o precioso açúcar, não explorando a riqueza local, mas sim produzindo a riqueza no local.
Aqui, não podemos deixar de reconhecer e declarar, terem os holandeses invadido e assaltado Pernambuco, com a finalidade de roubar a produção de açúcar, de se apoderar de uma bela cidade construída pelo capitão donatário, de conquistar um Estado em franco progresso, fruto de investimentos avultados e de muito trabalho e sacrifício dos portugueses. Até o Ciclo da Cana – iniciado (1532) em São Vicente por Martin Afonso de Sousa - era o pau da tinta que financiava pequena parte das elevadas despesas que Portugal tinha, com o reconhecimento e guarda do território brasileiro, onde – ao contrário das possessões espanholas – não havia sido encontrado ouro nem prata.
Assim, não tendo riqueza local a explorar, houve que criar riqueza no local, para o que foi necessário muito investimento, de modo bem diferente ao que hoje ocorre, quando os investimentos ou capitais são especulativos, sabendo-se antecipadamente as taxas de juro 15 que renderão, não acarretam quaisquer riscos para seus proprietários, e, se entram com a ambição da madrugada, se houver interesse, podem ser retirados ao pôr do Sol, eletronicamente, a uma simples ordem de seus donos, sentados nas poltronas de seus escritórios, em Londres ou Nova Iorque, tomando tranquilamente o seu whisky.
Naqueles tempos, o investimento era muito arriscado, e, quando havia retorno, tal acontecia passados alguns anos, muitos sacrifícios e perigos, ao contrário do que hoje ocorre. Aqui, recordo uma falsidade de Franklin de Oliveira, que no prefácio da obra (“A América Latina”, Manuel Bonfim, Topbooks, 1993, pag. 21,) ousou escrever: “O proprietário dos engenhos era um simples feitor; o seu objetivo era enriquecer no Brasil e, ricaço, retornar a Portugal”.
Que falsidade!!! Afirmação completamente destituída de fundamento, contrária da realidade, ofensiva e irresponsável, feita por ignorância ou talvez má fé, ela não revela ao leitor que o “proprietário dos engenhos” era o Capitão Donatário (ou um ilustre rico-homem com fortuna e provas dadas) que, escolhido entre os mais ricos nobres portugueses, se desfazia de sua avultada fortuna para, em Portugal, embarcar para o Brasil, em naus fretadas e ou adquiridas, materiais e colonos, que desbravassem o sertão, plantassem as mudas de cana, edificassem e implantassem casas e engenhos, e criassem todas as condições necessárias e suficientes ao fabrico e transporte da cana e do açúcar, ou seja, primeiro havia que criar a riqueza no local, mediante vultuosos investimentos, grandes riscos e sobre-humanos sacrifícios. Por aqui vemos que apenas homens ricos, tinham condições de trazer para o Brasil pessoas e bens, mudas e animais, desmatar a selva e plantar as mudas de cana, implantar os engenhos e produzir o açúcar, investindo muito para, passados dois a três anos, poder auferir os rendimentos do capital e do trabalho.
Ao historiógrafo ou historiador honesto e cônscio de sua responsabilidade – não devendo nem podendo enveredar pelo caminho da falsidade - cumpre correta e rigorosamente informar os leitores acerca do tema abordado nesta obra, a qual se apresenta contra o esporádico uso e costume de mal informar, e mal dizer daqueles que, desde há quase meio milênio, e à custa de avultados investimentos, indescritíveis sacrifícios e grandes riscos, iniciaram a verdadeira e heroica colonização, nesta terra de Vera Cruz ou de Santa Cruz chamada Brasil. Repare-se que ao tempo da invasão holandesa, quem incentivava os defensores contra os invasores, era o jesuíta padre Antônio Vieira (1608/1697), orador sacro sem igual – o maior de seu tempo – e erudito professor e escritor, filósofo e filólogo, diplomata e Mestre, formado desde os seis anos de idade na então cidade da Baía, e no seu Colégio de São Salvador - de nível superior já desde o início do século XVII – onde o jesuíta recebeu toda a sua formação e erudição, e de onde partiu em 1641, para encantar e deslumbrar as cortes europeias, com o brilho da sua palavra e o conteúdo de seus sermões. O Ciclo da cana de açúcar, iniciado, como referimos, em São Vicente e por Martin Afonso de Sousa (1532), coincidiu com o ciclo do gado bovino, indispensável ao transporte daquela, ao funcionamento dos engenhos, à alimentação dos colonos e à confecção de arreios, peças de vestuário, berrantes, móveis e muitos outros utensílios domésticos, ciclos que PASSADOS CINCO SÉCULOS constituem o agronegócio, hoje motor da economia do Brasil!.
Mas havia ainda os outros animais e plantas, frutos e sementes, engenhos e carroções, ferramentas e materiais de construção, ferro e cobre, além de muitas outras utilidades, se devem o desenvolvimento e progresso inicial do Brasil, até que alguns destes produtos aqui começaram a ser construídos. Como exemplo mais significativo, citamos os dois bergantins – espécie de galeras ou galés, navios oceânicos a remos de 15 ou mais bancos – construídos pela armada de Martin Afonso de Sousa no Rio de Janeiro, durante os três meses que ali permaneceu, antes de prosseguir sua viagem para Sul. Depois, várias armadas, e em vários locais do Brasil, procederam à construção de outros. 16 Ao Ciclo do gado e da cana de açúcar seguiu-se - no final do século XVII e início do século XVIII - o ciclo do ouro e das pedras preciosas, que se prolongou durante todo o século XVIII, e que que propiciou, durante todo esse período, principalmente nas Minas Gerais, a extração de grande quantidade de diamantes, e de cerca de duas mil toneladas de ouro, cujo imposto de 20% (quinto do ouro), custeou a administração (recordar Dona Beja) e a segurança, a fusão e o transporte, além de igrejas, cidades e monumentos, fortes e conventos, propiciando ainda a Portugal - com o que sobrou desse imposto, apesar da sonegação - subsidiar parte do gigantesco e esplendoroso Convento de Mafra, além de auxiliar na reconstrução da baixa de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755; salientamos, aqui, que a cidade de São Luiz do Maranhão, cujas centenas de sobrados coloniais da zona portuária, de dois e mais andares, ostentam o que de melhor se produziu em Portugal no respeitante a azulejos, exemplo um pouco seguido por todo o Brasil.
O Príncipe Dom João mudou-se para o Brasil, com quase toda a sua Corte, quando já tinha cessado a exploração do ouro e das pedras preciosas -Ciclo do ouro - portanto em período de vacas magras; mas trouxe, consigo, todo o tesouro então existente no reino de Portugal – estimado entre oitenta milhões de cruzados em ouro e diamantes, segundo certos autores, e duzentos milhões, segundo outros – tesouro que lhe permitiu fazer face, durante os primeiros tempos, às despesas da corte, ou seja, instalar 12 a 15 mil cortesãos no Rio de Janeiro, e custear a sua estadia e manutenção, além das obras mais urgentes. Após a chegada da Corte, e para condignamente instalar as famílias e as instituições do reino, houve que proceder a muitas obras de adaptação de velhos edifícios, e construir muitos outros, despesas que o até então vice-reino não tinha condições de suportar. Tendo o governante requisitado as residências de muitos moradores, é de crer que, tais moradias, apenas resolveram uma pequena parte das necessidades de tão numerosa comitiva.
Entretanto, há que humildemente reconhecer, que a ganância é própria dos homes e a justiça, em muitos casos, “é para os outros”, até porque “Homo Homini Lupus”, ou seja, o homem é o lobo do homem. Mas o que nenhum escritor deve, nem pode, é reportar-se, apenas, aos aspetos negativos, deprimentes e condenáveis da história das pessoas, dos povos e ou das nações, ou precipitar-se correndo a chamar a todos de corruptos, ou ao governante de medroso. Nestas circunstâncias, como pode alguém imaginar – muito menos declarar – que a Corte (corrupta?), constituída por entre 12.000 e 15.000 pessoas, chegou a uma pequena cidade como o Rio de Janeiro, onde perfazia cerca de um quarto da população, e em parte, se alojou nas casas dos já ali residentes, e logo passou a ser sustentada por estes ou pelo inexistente tesouro local, ou até a praticar atos de corrupção para viver?. Por isso, e nesta situação, apelidar a Corte de corrupta, como fez o autor de “1808”, só poderia ser obra da mente doentia, de um jornalista viciado em reportagens escandalosas ou fruto de “investigações jornalísticas” fraudulentas.
Recorde-se que um grande negociante, à chegada da corte, ofereceu – espontaneamente – ao príncipe Dom João, a Quinta da Boa Vista ou Palácio de São Clemente, talvez considerado ato de corrupção pelo o “autor” de “1808”. De qualquer modo, acusar toda uma corte de corrupta, sem a ninguém excluir e sem apresentar provas, só por si, será ato condenável, impróprio de um historiógrafo, que se propõe oferecer à população brasileira dados sobre seus ascendentes. Em apenas treze anos de governo, o grande estadista que foi o Príncipe regente Dom João – recordemos que foi o primeiro rei do Brasil, que transformou em sede do reino, quando Portugal passou a ser a colônia - unificou o vasto território e suas populações, transformando, radicalmente, a capital e o Império do Brasil, quase milagre que se deveu à vinda da cúpula do Reino de Portugal, aqui incluídos os seus ministérios, as suas instituições e alta administração, todo o Colégio dos Nobres (espécie de universidade do Paço), as suas academias, os seus intelectuais, os seus técnicos, professores, magistrados, engenheiros, generais.
E foram essas elites que, não apenas trataram do desenvolvimento e progresso nacionais, como, ainda, congregaram seus povos e etnias, implantando a língua portuguesa, amalgamando culturas e sangues, e a tal ponto, que conseguiram disseminar e propagar, por todo o vastíssimo território, a cultura 17 reinol, com sua língua portuguesa, suas leis, e atributos indispensáveis a uma união, que transformou o Brasil em um dos maiores Estados do mundo. Do Grito do Ipiranga – fruto da ousadia, coragem e determinação do Príncipe regente português Dom Pedro – nasceu o Brasil uno e independente, sem maiores violências ou guerras fratricidas, ao contrário do que ocorreu em muitos Estados da América espanhola, onde alguns territórios eram povoados por antigas e ricas civilizações, que pelos espanhóis tinham sido espoliadas, destruídas, dizimadas.
Tal procedimento desumano, representou rigorosamente o oposto daquilo que Portugal fez no Brasil. São tais diferenças, contradições e anacronismos, que quem escreve sobre história tem o indeclinável dever de revelar, até porque, do humanismo português, surgiu uma cultura de cordialidade de um povo alegre e tranquilo, ordeiro e pacífico, trabalhador e bom, o qual – ainda ao contrário de alguns de seus vizinhos - faz revoluções quase sem violência, não persegue os vencidos e trata os adversários com fraternidade, também e ainda ao contrário de outros povos sul americanos, cujos recentes feitos e autores todos conhecem, pelo que não é necessário nada identificar. Isto, sim, deveria ser citado pelo jornalista em “1808” e em “1822”.
É certo que no Brasil também existe muita violência, mas quando alguns grupos e ou fações optam pela ilegalidade, as forças armadas e de segurança, e a própria população, opõem-se lhes sem ódio e sem espírito de vingança, buscando a melhor solução para as dissidências, o melhor caminho para a harmonia e a mais justa decisão para o consenso. Assim ocorreu ao longo da história, em que as “guerrilhas” internas poucas vítimas causaram, ainda e também ao contrário do que ocorreu na Argentina, no Chile e no Uruguai, isto para não falar do que ainda hoje acontece, principalmente na Colômbia, no México e na Venezuela.
Naturalmente, no Brasil como no resto do mundo, sempre haverá descontentes, revoltados e opositores, como, aliás, ocorreu ao longo da história da humanidade.
Entretanto, e no campo da justiça social, muito haverá por fazer, até porque é absolutamente injustificável a existência de fome e de miséria, em país tão rico, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo.
Para fazermos uma ideia, produzindo cerca de quinhentos quilos de soja por habitante/ano, verificamos que, apenas com esta rica leguminosa, poder-se-ia alimentar toda a população do Brasil.
Se alguém passa fome, dispondo desta riqueza, talvez encontremos a explicação nos graves desvios de certas “elites” políticas, quando se apoderam do Poder. Resumindo e concluindo, a missão do historiógrafo e ou do historiador é, e sempre será, ao reportar fatos históricos, não apenas ser fiel à verdade, como, ainda e principalmente, dar prioridade aos casos mais relevantes, em detrimento de mesquinharias, futilidades, fofocas e tagarelices, sempre evitando particularidades e intimidades pessoais, transformando a escrita e a história em algo fidalgo e nobre, instrutivo e pedagógico, elevado e bom, tendente à elevação moral e espiritual, a engrandecer a autoestima e o orgulho pessoais e coletivos, que conduzem os homens e os povos à auto realização, ao sucesso e ou ao progresso.
Esse será, enfim, o objetivo dos homens e da humanidade, no seu caminhar para um mundo sempre melhor e mais justo, mais humano e humanista, mais fraterno e livre.
